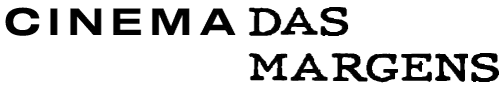Escrito por Deivid Mendonça
Uma pesquisa sobre a preservação e a memória dos primeiros filmes do interior paulista
A história do cinema no Brasil atravessa os veios do país desde sempre muito além dos cenários das grandes capitais. Mas embora seja uma história rica de agentes e obras do interior, esta história é muitas vezes desconhecida por seu povo. Os desafios e negligências nessa relação estão vinculados a diversos processos, decisões políticas e lacunas de investimento.
Quando falamos dos entraves para se fortalecer o cinema fora do eixo, geralmente é pautado de imediato o árduo caminho para se captar recursos e produzir, a luta por fomento para fazer filmes, a precariedade nas relações de trabalho. Mas este artigo lança luz sobre um outro ponto focal. A ponta final: o armazenamento, a conservação, a preservação. Depois de gestados, nascidos e criados, para onde vão os filmes do interior do Brasil? Neste artigo, investigamos este encaminhamento a partir especialmente dos primeiros filmes produzidos no interior paulista. Entender este levantamento é compreender as possibilidades que os filmes pioneiros deste cinema podem ter: uma gaveta final, uma lápide, uma vitrine.
Um filme é, como diria Bell Hooks, um testemunho de seu tempo. Mas um país que tantas vezes desconsiderou ou intencionalmente escondeu sua história não fez tão diferente com seu cinema. Na larga gama de filmes produzidos no país no início do século XX, quando o Brasil despontou suas primeiras produções, é longa a lista de obras não encontradas. Isso se pensarmos nas que foram ao menos nomeadas e chegaram a público.
Como colocado pelo professor doutor em preservação cinematográfica, Rafael de Luna Freire: os motivos que levam à perda de filmes são extensos e, especialmente no primeiro cinema, envolvem fatores incontornáveis como o custo de manutenção, a dificuldade de armazenamento e até um legítimo desconhecimento dos procedimentos necessários.
Se pensamos nos primeiros filmes do interior do país, estes vetores de certamente estarão envolvidos na baixa ou nula conservação: o alto custo, o desconhecimento dos procedimentos, a falta de estrutura e ambiente adequado, a qualidade muito mais sensível da película e a própria falta de percepção, por parte dos realizadores e sociedade, da relevância que estas obras teriam como objetos históricos.
Neste último aspecto, uma história anedótica que podemos retomar aqui pelo relato do historiador E. Gombrich que ajuda a ilustrar essa falta de perspectiva histórica é o do famoso quadro da Santa Ceia, de Leonardo Da Vinci. Hoje, cultuada e inconteste como ícone da história da arte, a peça é visitada por multidões que chegam a formar filas e esgotar reservas no pequeno espaço do batistério onde se localiza, em Florença, na Itália. O lugar é de difícil visitação e pouco espaço. Seguramente não a melhor opção para uma obra deste porte ser exposta. Mas o que o relato de Gombrich esclarece é de como a construção da obra em nada favorece sua exposição hoje. Isso porque a Santa Ceia foi pintada diretamente na parede como afresco no refeitório de um convento. Os materiais eram pouco duráveis, a técnica de difícil manutenção, o espaço tomado de fumaça e fluidos de comidas não ajudaria na sua conservação. Certamente se tivessem àquela altura dimensão da grandiosidade que esta obra teria e de como as escolhas não facilitariam sua conservação, poderiam ter tomado um caminho diferente. Mas assim não foi.
E assim como deixar a Santa Ceia impregnada em uma parede de refeitório não seria a escolha de alguém que faz uma pintura a ser visitada por séculos, também não seria a escolha daqueles que produziram os primeiros filmes a deixar estas obras em condições insalubres caso soubessem da relevância que teriam e das condições adequadas que precisavam. Então há esta ressalva a ser feita: a falta de previsão e expectativa muitas vezes escapa às previsões para preservação adequada.
Mas feita essa ressalva e compreendidas as intempéries e condições limitantes, olhamos aqui para o que está além disso: aquilo que é controlável. Os esforços possíveis para, a partir da obra existente e dos materiais empregados, fazer uma durar. Política que a Santa Ceia passou a experimentar e hoje é tratada com periodicidade por mantenedores da obra, restaurada de tempos em tempos para que se mantenha materialmente na memória.
Mas e os nossos primeiros filmes? O que há de possível e controlável para mantê-los? Qual a importância de lembrar destas obras?
Cinema como Memória Coletiva
Este artigo investiga os filmes produzidos no interior de São Paulo antes dos anos 1950, explorando quais obras foram realizadas, seus diretores, os anos de produção e onde essas películas podem ser encontradas atualmente. Além disso, discutimos a situação da preservação cinematográfica no Brasil e os motivos pelos quais filmes do interior tendem a não ser lembrados.
Lembrar é, nas mais diversas literaturas teóricas, objeto de muito estudo. Uma palavra axiomática que só existe quase por força de um paradigma. Só há lembrança porque algo se esvai, porque há perda de memória, porque há esquecimento. E é por isso, não de hoje, que as sociedades através dos tempos se fundaram em torno de figuras que tratem dessas memórias, conservem, mantenham aquilo que importa.
Susan Sontag, em suas reflexões sobre a memória, explora como a lembrança e o esquecimento moldam a nossa compreensão da história e da identidade. Ela argumenta que a memória é tanto um processo de preservação quanto de destruição, onde o que lembramos e o que esquecemos são igualmente importantes. Sontag também discute como a fotografia, e por extensão o cinema, serve como uma ferramenta poderosa para a memória, permitindo que momentos específicos sejam capturados e revisitados, mas também questiona a fidelidade dessas lembranças capturadas, pois são sempre sujeitas a interpretações e manipulações.
Associar as ideias de Sontag ao cinema do interior do Brasil, que muitas vezes é esquecido e pouco preservado, revela um paralelo importante. Assim como a memória pode ser seletiva e falha, o cinema dessas regiões muitas vezes não recebe a devida atenção e preservação, sendo relegado ao esquecimento. Este cinema, que captura e narra histórias locais e específicas, possui um valor inestimável na formação da identidade cultural dessas regiões. No entanto, sem esforços de preservação e reconhecimento, essas narrativas correm o risco de serem perdidas, apagando importantes aspectos da memória coletiva.
Outro estudioso da memória, o sociólogo francês Maurice Halbwachs argumentava que a memória não é um fenômeno individual, mas é socialmente construída e mantida dentro de grupos. Halbwachs introduziu o conceito de “memória coletiva”, que sugere que nossas lembranças pessoais estão intimamente ligadas às comunidades e grupos sociais aos quais pertencemos.
Halbwachs não escreveu diretamente sobre a preservação de filmes, pois sua obra foi desenvolvida antes do cinema se tornar um meio amplamente estudado academicamente. No entanto, suas teorias sobre memória coletiva podem ser aplicadas à preservação cinematográfica. Filmes são um meio poderoso de criar e manter memórias coletivas. Eles capturam e refletem as experiências, valores e histórias de uma sociedade, funcionando como um repositório de memória cultural. A preservação de filmes, portanto, não é apenas a conservação de artefatos físicos, mas a manutenção da memória coletiva de uma sociedade.
Os primeiros filmes
O cinema no interior de São Paulo teve seus primeiros passos tímidos no início do século XX, com cineastas locais tentando captar a vida e a cultura regional.
A preservação de filmes no Brasil é um desafio contínuo, principalmente devido ao clima, que acelera a deterioração dos materiais fílmicos, e à falta de recursos e políticas públicas consistentes para a preservação.
Neste sentido, há órgãos, instituições, iniciativas privadas com certa estrutura e iniciativas importantes. Algumas até amadoras: uma movimentação comum é a de parentes que se mobilizam por exemplo em conservar a obra de um cineasta da família de modo totalmente independente.
A Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo, é o principal acervo de filmes do país e tem desempenhado um papel crucial na tentativa de salvar e restaurar o patrimônio cinematográfico brasileiro. No entanto, muitos filmes antigos foram perdidos devido a incêndios, má conservação e negligência ao longo dos anos. Aqui partimos inicialmente dos mapeamentos que diversos teóricos e autores de cinema no Brasil construíram mas que foi catalogado pela Cinemateca. É a base de dados a qual nos referimos centralmente.
De acordo com a Cinemateca Brasileira, apenas uma fração dos filmes produzidos antes dos anos 1950 foi preservada. As dificuldades incluem o clima e as condições de armazenamento, os recursos limitados, além de eventos como acidentes e incêndios.
A Cinemateca Brasileira conta com uma base de dados ampla, alimentada há anos, que traz as informações sobre as produções e nos permite localizar filmes por territórios. Nesta pesquisa, esta base de dados foi a principal fonte referencial. A partir da busca por filmes produzidos nos territórios do interior, chegamos às informações técnicas e criativas disponíveis.
Por essa escavação minuciosa de fichas, é que se chega a um mapeamento vasto de obras produzidas no interior paulista em seus períodos iniciais de cinema na região (início do século XX até a década de 1950). A compilação a seguir é um resumo deste mapeamento.
Década de 1910
- Diretor: Francisco Marzullo
- Local de Gravação: São Carlos
- Minutagem: ~30 minutos
- Gênero: Drama
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Francisco Marzullo
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~20 minutos
- Gênero: Comédia
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Francisco Marzullo
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~15 minutos
- Gênero: Comédia
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Sorocaba
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São José do Rio Preto
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Piracicaba
- Minutagem: ~8 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Francisco Marzullo
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Taubaté
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Jundiaí
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Limeira
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
Década de 1920
- Diretor: José Medina
- Local de Gravação: Ribeirão Preto
- Minutagem: ~60 minutos
- Gênero: Drama
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Preservado na Cinemateca Brasileira
- Diretor: Rodolfo Lustig
- Local de Gravação: Piracicaba
- Minutagem: ~20 minutos
- Gênero: Drama
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São Carlos
- Minutagem: ~15 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Francisco Marzullo
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Ribeirão Preto
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Piracicaba
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Sorocaba
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Sorocaba
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São José do Rio Preto
- Minutagem: ~15 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Sorocaba
- Minutagem: ~20 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
Década de 1930
- Diretor: Eduardo Abelim
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~40 minutos
- Gênero: Drama/Horror
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Rodolfo Lustig
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~30 minutos
- Gênero: Fantasia
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Piracicaba
- Minutagem: ~15 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São Carlos
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Taubaté
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São Carlos
- Minutagem: ~15 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Taubaté
- Minutagem: ~20 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São José do Rio Preto
- Minutagem: ~15 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Fantasia
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
Década de 1940
- Diretor: Armando Câmara
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~50 minutos
- Gênero: Musical
- Tipo: Ficção
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Taubaté
- Minutagem: ~20 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Ribeirão Preto
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Piracicaba
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Sorocaba
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Sorocaba
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São José do Rio Preto
- Minutagem: ~15 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: Sorocaba
- Minutagem: ~20 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Desconhecido
- Local de Gravação: São José do Rio Preto
- Minutagem: ~12 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
- Diretor: Francisco Marzullo
- Local de Gravação: Campinas
- Minutagem: ~10 minutos
- Gênero: Documentário
- Tipo: Documentário
- Estado Atual: Perdido
Para cada filme, nas bases dos acervos da Cinemateca e outras bases como Museu da Imagem e Som e Reserva Pública de São Paulo, foram coletados facilmente os dados apresentados de ano e local de produção, equipe, título, além de outras informações como sinopse. Mas há um dado que se destaca aqui: o destino da produção. Uma demarcação que, nesta base principal citada da Cinemateca, magnetizou a atenção de toda a pesquisa e que nos fala de uma espécie de paradeiro destas obras. Um grifo, sempre no canto direito da ficha de cada filme, para o qual os dizeres mais comuns são “filme desaparecido”.
O magnetismo dessa marcação vem junto de uma pergunta que atravessa o autor a todo tempo: como pode um filme desaparecer? Não um anel, parafuso ou um bibelô ínfimo, mas um filme. Obras inteiras nas quais se dedicaram uma gama de profissionais, para o qual foram gerados volumes grandes de películas e em torno dos quais diversas pessoas se mobilizaram em assistir.
No caso desta compilação, destacamos especialmente as obras que exemplificam essa marcação. Filmes inteiros tomados como perdidos, desaparecidos. Não são poucos. Tanto na pesquisa nos acervos públicos e cinemateca, os vestígios destas obras – caso existam – não são oficialmente mapeáveis.
Desafios e Perspectiva
A situação da preservação de filmes no Brasil, conforme o relatório do 1º Fórum de Cinema de Tiradentes, revela uma série de desafios e recomendações importantes.
A Carta de Tiradentes, resultado deste fórum, aborda a necessidade de políticas públicas robustas e bem articuladas para a preservação do patrimônio audiovisual brasileiro. Destaca-se a importância de um sistema nacional de preservação que contemple a descentralização de investimentos, a governança, e um marco regulatório específico para fomentar a cultura. Este sistema deve ser abrangente e garantir a conservação adequada dos filmes, incluindo tanto os clássicos quanto as produções contemporâneas.
Além disso, o relatório enfatiza a relevância da colaboração entre diversas entidades do setor audiovisual, como associações, instituições de ensino e órgãos governamentais, para assegurar que as políticas de preservação sejam eficazes e inclusivas. A descentralização dos investimentos é vista como uma medida crucial para que regiões fora dos grandes centros também tenham condições adequadas para a preservação de filmes. Para que essa preservação seja eficaz, é crucial que os investimentos e esforços sejam descentralizados, alcançando todas as regiões do país. Dessa forma, evita-se a concentração de recursos apenas nos grandes centros urbanos, permitindo que o cinema do interior do Brasil se desenvolva e prospere com suas próprias identidades e histórias únicas. A descentralização assegura que obras valiosas, muitas vezes esquecidas ou negligenciadas, possam ser resgatadas, restauradas e apreciadas por um público mais amplo.
Nesse contexto, a Lei Paulo Gustavo representa um movimento significativo ao dedicar parte de seus recursos para a preservação e recuperação de acervos audiovisuais. A lei destinou cerca de R$ 3,86 bilhões para o setor cultural,, dos quais cerca de R$ 200 milhões foram especificamente alocados para a preservação e recuperação de acervos audiovisuais. Este montante foi direcionado para uma série de iniciativas que visam garantir a conservação do patrimônio audiovisual brasileiro.
Os recursos foram utilizados de diversas formas, incluindo projetos para digitalizar e restaurar filmes e outros materiais audiovisuais, investimentos em infraestrturura, programas de capacitação para profissionais da área de preservação e projetos de catalogação e arquivamento.
Essas ações têm sido essenciais para assegurar que patrimônio audiovisual do Brasil seja mantido, restaurado e disponibilizado de forma democrática, permitindo que as produções interioranas e fora do eixo tenham um espaço garantido na memória cultural do país. Além disso, a política descentralizada da Lei Paulo Gustavo é crucial para o fortalecimento do cinema no interior do Brasil. Ao distribuir investimentos de forma equitativa por todas as regiões, a lei evita a concentração de recursos apenas nos grandes centros urbanos, promovendo o desenvolvimento cultural em áreas historicamente marginalizadas. Para que essa prática se torne uma regra e não uma exceção, é necessário que políticas públicas contínuas e sustentáveis sejam implementadas. Isso é essencial para que o cinema do interior floresça com sua própria identidade e histórias locais ao invés de se perder, como nos grifos da cinemateca, em meio a peças desaparecidas.
No mosaico da primeira produção de cinema da região que esta pesquisa escavou e identificou, estas peças desaparecidas não são poucas. E diante deste mosaico, encaramos a constatação de alguns destes fatores que levam a essa imagem lacunar do nosso cinema, mas também encaramos uma grande interrogação. Encarar as brechas e furos da memória coletiva audiovisual é encarar mais a dúvida que a resposta.
Reforçamos então a pergunta e a ampliamos a vocês, leitores. A exemplo dos principais jornalísticos do Brasil, esta pesquisa imbui o autor em sua escrita de um papel curioso, quase de apreensão criminal. Neste caso, não na busca de cidadãos fora-da-lei que fugiram de seus flagrantes, mas de obras que poderiam nos ajudar a enxergar nosso país e foram tiradas aos poucos da história. E é em alusão ao encerramento dos jornalísticos policiais que encerramos esse artigo, com o convite que é uma máxima familiar aos telespectadores: Se você tem notícias dos paradeiros dos filmes citados neste trabalho, nos escreva. Qualquer informação, pode definir os rumos deste processo.